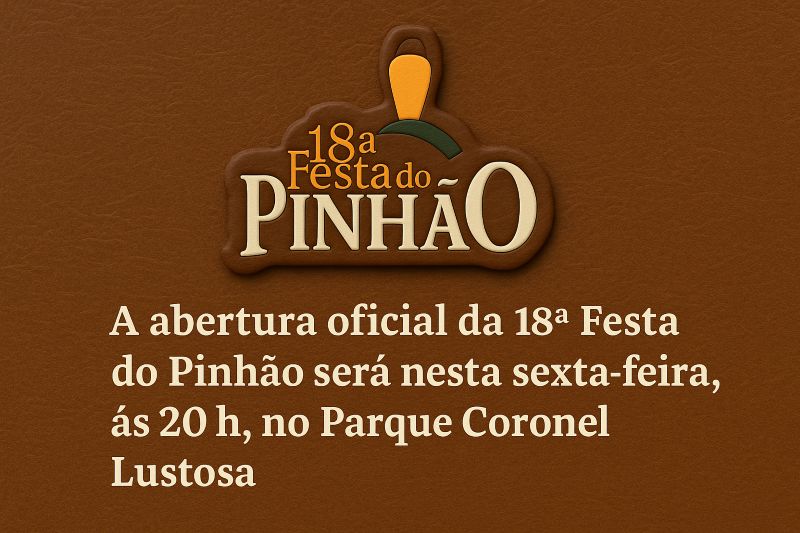por Dartagnan da Silva Zanela (*)
Nos famigerados anos 80 fiz um curso de datilografia. Sim, eu fiz. Meus pais haviam comprado uma Olivetti portátil, cor verde. Uma beleza. Então todas as terças e quintas à noite, lá ia o pequeno Darta com aquela maleta verde para o colégio para aprender a usar apropriadamente o barulhento e pesado instrumento de escrita. Eu queria usá-la com a mesma maestria que meu pai, que datilografava um texto sem olhar para a máquina e, ainda por cima, o fazia com a devida tabulação. Era uma destreza que eu admirava.
Quando colocava-me em marcha rumo ao colégio, sempre era acompanhado pelo meu grande amigo Monique, meu cachorro. Não sei porque ele tinha esse nome. Quando iniciamos nossa amizade ele já respondia por essa alcunha. Pequenino, de pelo marrom-caramelo, bem clarinho, de cambitos curtos e, tal qual eu, um legítimo vira-lata.
Enquanto caminhava para o meu destino, ele ia junto comigo, ao meu lado e, no caminho, íamos batendo altos papos. Sim, quando criança, conversava muito com meu doguinho.
Chegando ao colégio Júlio Moreira, ele adentrava os portões comigo e ficava deitado, junto à porta da sala de aula onde eu recebia as lições para o uso da dita-cuja e, findada a aula, lá íamos nós, eu e ele, para casa.
Certa noite, ao findar a aula, começou a chover. Abri o meu guarda-chuva e, com alguma dificuldade para carregar a máquina de escrever, fomos para casa. Munique, como sempre, coladinho do meu lado.
Na metade do caminho, a professora de datilografia e seu marido pararam o carro para me oferecer uma carona. Ao ouvi-la dizer isso, sorri, mas declinei o convite. Ao me perguntarem o porquê, apenas voltei meus olhos para meu amigo que estava comigo. Não podia deixá-lo. Os dois sorriram e disseram que não tinha problema, que ele podia vir junto. E fomos, faceiros da vida.
Essa é uma daquelas lembranças dos verdes anos da nossa vida que a gente não se esquece. Ao menos, não deveríamos. Não por uma questão de nostalgia, mas sim, para lembrarmos quais são os valores que realmente dão sentido e profundidade ao nosso peregrinar por esse mundão de meu Deus.
Poxa vida. Só de rememorar essa doce lembrança da minha infância, para escrevinhar essas linhas, meus olhos marejam. Imagino que o amigo leitor também deve ter lembranças assim, bem guardadinhas no fundo de sua alma e que, vez por outra, afloram sem pedir licença, sem a menor cerimônia, nos levando a rir e a chorar.
É interessante como uma presença, seja ela humana ou não, imprime uma série de marcas em nossa personalidade. Marcas essas que, obviamente, não determinam quem nós somos; mas a forma como nos relacionamos com cada uma delas, e com as lembranças que guardamos daqueles que as imprimiram, acabam sendo uma influência poderosíssima em nossa vida.
Pois é. Esse cãozinho, o Monique, foi uma dessas presenças. A muito ele partiu. Mas ainda, de vez em quando me vejo ao lado dele, conversando nos fins de tarde, sentado no chão ao lado da sua casinha, ou junto a um meio-fio, contando-lhe a respeito das minhas alegrias e tristezas, sonhos e angústias, ideias e fantasias e, as vezes, falando-lhe, mirava seu rosto, sempre com aquele canino olhar apiedado a mirar-me também. Ai, dizia eu, meio melancólico, “você não está entendo nada do que eu estou dizendo, né Monique”, e fazia-lhe um cafuné, enquanto ficávamos contemplando o pôr do sol em silêncio.
Enfim, sem entender uma única palavra, ele sabia exatamente quem eu era e, com sua presença, me ajudou a ser quem eu sou, que não é grande coisa, mas que em alguma medida, muito devo a sua gentil companhia, a sua inestimável amizade canina.
(*) professor, escrevinhador e bebedor de café. Autor de “A QUADRATURA DO CÍRCULO VICIOSO”, entre outros livros.
Clique  AQUI - PARA LER OUTROS ARTIGOS
AQUI - PARA LER OUTROS ARTIGOS