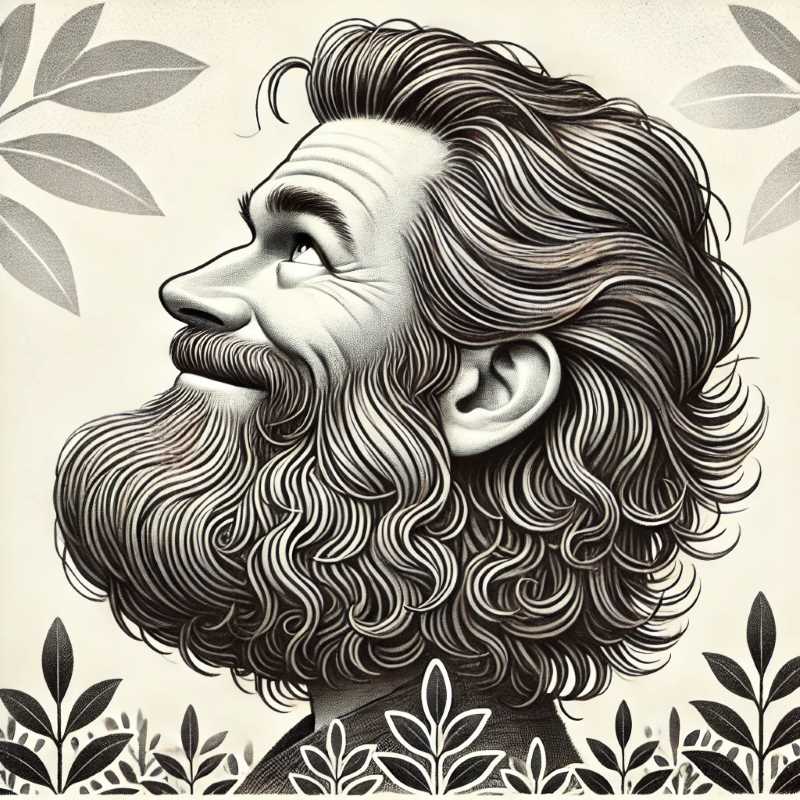Recentemente assisti, por recomendação do meu filho mais velho, uma série chamada “Love, Death & Robots”, uma animação que está disponível nas prateleiras digitais da Netflix. Esta série foi produzida por Joshua Donen, David Fincher, Jennifer Miller e Tim Miller. A mesma reúne 18 episódios independentes, todos bem curtinhos, mas muito bem feitos, intensos e profundos.
Um dos episódios me marcou de forma contundente. No caso seria o episódio três da segunda temporada, intitulado “Esquadrão de extermínio”. Nele temos a apresentação de uma sociedade futurista onde havia sido descoberto uma substância que tornava as pessoas imortais, transformando todo o mundo numa espécie de Shangri-Lá hi-tec. Quer dizer, apenas participavam desse mundo aqueles que podiam pagar pelo elixir da juventude eterna. Ou seja: não muitos.
Aí já deu pra sacar que o mundo virou literalmente um retrato revisado do “Admirável Mundo Novo” de Aldous Huxley onde, no lugar do psicotrópico “SOMA”, havia a substância que permitia que as pessoas não envelhecessem. Substância essa que deveria ser aplicada de tempos em tempos nos cidadãos que queriam porque queriam engambelar a morte.
E é claro que essa eviternidade acabou por transubstanciar as pessoas em verdadeiros monstros morais, hedonistas sem rédeas, criaturas frívolas que viviam como se a existência fosse uma festa rave sem fim.
E, como todos nós muito bem sabemos, nessas histórias distópicas, como na vida de um modo geral, sempre há um “porém”. No caso, o “porém” era o seguinte: para que a baladinha perene pudesse existir era necessário que ninguém mais tivesse filhos e, para garantir isso, havia um esquadrão que tinha a missão de encontrar as pessoas que paravam de tomar o elixir da vida eterna (haviam pessoas que optavam em parar de tomar o dito treco) e ousavam ter filhos e, aos encontrá-las, deveriam exterminar as crianças. E eram exterminadas a sangue frio como se elas fossem uma espécie de parasita que ali estava para atrapalhar a vida de todos.
Diante dessa animação fiquei seriamente desassossegado. Perturbado ao ponto de ir às lágrimas porque, a imagem retratada pelos autores da mesma era, de certa forma, um reflexo do espírito que se encontra subjacente aos discursos daqueles que defendem o assassinato de bebês no ventre materno como se isso fosse uma espécie de “direito humano”, também comumente chamado por eles de “interrupção terapêutica da gestação”, de “direito reprodutivo”, ou simplesmente de aborto.
Se refletirmos um pouco, iremos perceber que quando temos filhos nós sacrificamos muitíssimos de nossos desejos mesquinhos para que eles possam nascer, crescer e viver e, ao fazermos isso, sem nos darmos conta, nós nos tornamos uma pessoa melhor graças a eles. Não uma pessoa perfeita, nada disso; mas temos uma oportunidade belíssima de sermos pessoas melhores.
E isso ocorre porque semear a vida e cultivá-la é um ato de amor. Amar é isso: sacrificar-se graciosamente pelo bem do bem amado. E a animação mostra isso nos rostos e nas atitudes das pessoas que, nessa sociedade futura, hipotética e distópica, ousavam ter filhos. Um contentamento que não é visto no olhar e no rosto daqueles que optaram em ficar “vivendo” a vida adoidado eternamente.
Agora, quando passamos a defender o assassinato de pequeninos no santuário da vida, no ventre materno, o que estamos bradando aos quatro ventos é que queremos que as pessoas sacrifiquem os seus filhos para salvar aquilo que chamamos de “nossa vida”. E ao matarmos um inocente para preservarmos a “nossa vida”, sem nos darmos conta, acabamos por arrancar a luz da vida que habita em nós, tal qual os personagens virtualmente imortais da referida história animada.
Na animação, há um momento em que um dos agentes do esquadrão de extermínio chamado Briggs encontra uma senhora chamada Eva. Ela morava numa casinha abandonada, fora da cidade da “rave da perdição sem fim”. Essa casinha era banhada levemente por alguns suaves fachos de luz. Ele entra na casa e vê ela com sua filhinha, pede para ela ficar calma e ambos sentam junto à mesa enquanto a criança brinca no chão.
Briggs pergunta a ela porque pessoas como ela insistem em ter filhos e, então, ela responde, com a voz um tanto trêmula, que ela já tinha mais de duzentos anos, que viu muita coisa em todo aquele tempo que se passou, mas aquilo tudo, num certo momento, passou a parecer-lhe fútil, sem sentido e sem vida. Ela via o reflexo dos seus olhos no espelho e percebia que esses estavam vazios, mortos, como os de Briggs. Mas ver o mundo pelos olhos de Melanie, sua filhinha, mudou tudo, pois, tal perspectiva, acabou tornando novas todas as coisas.
E Eva, a mãe de Melanie, como toda boa mãe e todo bom pai, estava disposta a morrer por sua amada filhinha, porque isso é amar. Diferente do que foi a vida do agente Briggs até ali, que dedicou sua vida a ceifar a vida de inocentes, sem direito à defesa, pelo crime de ter nascido. Ela estava disposta a dar a sua vida para proteger Melanie. E Briggs estava disposto a tirar a vida de Melanie para prolongar aquilo que ele chamava de “sua vida”.
Por fim, como havia dito noutra escrevinhada que, como tudo, acabou sendo devorada pelas brumas do tempo, nem tudo vale a pena se a alma não se apequena. Se dilatamos os umbrais de nossa alma, percebemos que muitas coisas não passam de frivolidade de uma época em que a vaidade e a soberba reinam em corações que não sabem diferenciar o ato de amar da mera busca pelo prazer. E se permitirmos que o batente de nossa alma se amplie, iremos compreender que os filhos transformam nosso coração egoísta e hedonista, nos ensinando a viver e a amar.
Escrevinhado por Dartagnan da Silva Zanela
CLIQUE AQUI PARA LER OUTROS ARTIGOS