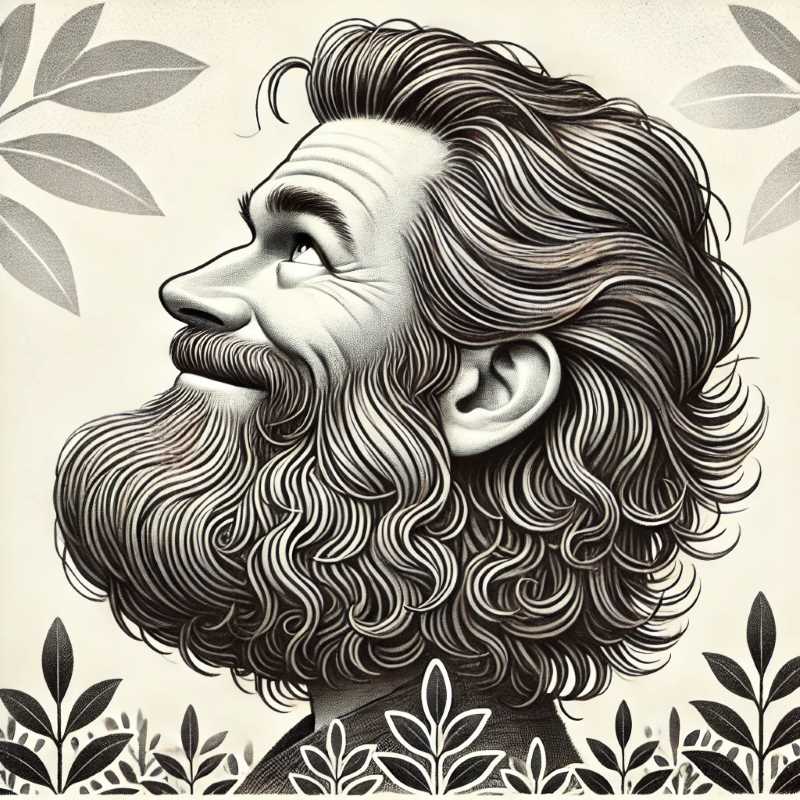Poucas pessoas conhecem tão bem a alma humana quanto um bom jogador de pôquer. Aliás, os cabras conhecem muito bem não apenas a alma alheia, mas também, conhecem muito bem a própria.
Não sou um apreciador do referido jogo que, de azar, tem muito pouco, mas sei que em um carteado desse tipo um homem é capaz de atingir o seu melhor e, também, de chegar ao seu pior, indo da faceirice desmedida até o “ódio odiento” numa só rodada sem, é claro – e isso é muito importante – demonstrar uma única emoção verdadeira sequer, agindo tranquilamente como se nada de relevante estivesse acontecendo. Dá até medo.
E o mais curioso nesse trem todo é que todos que estão junto à mesa, jogando, estão fingindo; todos estão de sacanagem. Por isso, todo bom jogador de pôquer deve estar atento para as malandragens do carteado para ser capaz de captar, de longe, o que seria uma aposta séria e perigosa, e diferenciá-la de um blefe melindroso que, por isso mesmo, é perigosíssimo.
Nesse sentido, tanto o pôquer quanto o truco tem lá suas semelhanças, apesar das inúmeras diferenças que vão muito além dos decibéis elevados que fazem parte do segundo. Das semelhanças, sem dúvida alguma, a habilidade de passar um cachorrão (blefe), juntamente com a capacidade de saber identificar um, são elementos fundamentais e, por incontáveis razões, tais habilidades e capacidades têm lá sua importância na vida que, como há de se imaginar, não seria nem um pouco miúda.
“Sacumé” que são as coisas, não é mesmo? A malandragem e suas malícias são como uma corruíra no jardim: de repente ela pinta e toda a paisagem se vê [malandramente] mudada.
Falando-se nisso, lembrei-me de um causo de nossa história. Há uma passagem nas páginas amareladas pelo tempo, onde nós somos lembramos de um feito de uma dessas “otoridades” do judiciário brasileiro, que viveu durante o Período Monárquico de nossa história, um tal de Agostinho Petra Bittencourt.
Dizem que o referido magistrado fluminense, que atuou durante o Segundo Reinado, havia dado uma ordem para um dos seus subordinados e esse, sentindo-se desconfortável com o que fora pedido, se recusou a cumpri-la.
Ao questionar o subordinado a respeito de sua insubordinação esse, de forma breviloquente, disse: “não faço porque não quero”.
Bah! Que barbaridade. O juiz, do alto de sua juizite, não deixou barato. Demitiu-o? Não. Não mesmo. Mandou prendê-lo. Mandou de imediato recolher o insolente na cadeia, afinal, quem esse sem noção pensa que é para desacatar a sua togada vontade, não é mesmo?
Porém, todavia e, entretanto, passados alguns dias, não muitos, eis que veio uma carta do Paço Imperial, onde um “ban ban ban” da Corte de sua Alteza Imperial Dom Pedro II, solicitava a soltura imediata do funcionário que fora preso, pois, conforme lembrava o autor da missiva, dizer “eu não quero”, pode até ser uma demonstração de petulância, mas não é crime. E ponto final.
O juiz, engasgado em sua juizite, com os olhos nadando em azeite fervendo, de raiva, mirou bem nas vistas do mensageiro e, com o dedo em riste apontado para suas ventas, disparou: “diga ao seu amo que, se não é crime dizer ‘não quero’… não solto o homem – porque ‘não quero’. E ponto final!”
É. O subordinado trucou, o juiz levantou para seis, o “ban ban ban” da Corte subiu para nove e, por fim, o juiz, chamou a todos de “shampoo de porco”, “porta sem tramela”, “sofá de zona” e, sem pestanejar, pediu doze esmurrando a mesa.
Agora, como que esse causo terminou eu não sei porque, até onde tenho notícia, a dona História não soube me contar qual foi o desfecho desse entrevero.
Mas, se formos voltar nossos olhos para o cenário contemporâneo, veremos muitas manifestações de juizite similares a do finado Agostinho Petra Bittencourt, porém, não aqui no Brasil; não, porque, como todos nós muito bem sabemos, abusos de autoridade similares a esse são coisa do passado. Foi-se o tempo dos “coronéis togados”. Nossos Supremos jamais fariam uma coisa dessas. Jamais. Estou me referindo, é claro, aos Supremos de Tuvalu.
Os Supremos dessas encantadoras ilhas da Polinésia mandaram prender uma série de pessoas e, também, ordenaram a apreensão dos equipamentos eletrônicos de um punhado de outras, simplesmente porque essas figuras estavam agindo de forma, como direi, inconveniente, quer dizer, porque estavam dizendo coisas que os Supremos de Tuvalu consideravam e consideram “antidemocráticas”.
Segundo eles, liberdade de expressão tem limites e, o limite, quem determina são eles.
De mais a mais, vale lembrar que, desde que o mundo é mundo, a verdade costuma agir e portar-se assim, de forma inconveniente e, a mentira, juntamente com a vilania, sempre recorreram, e continuam recorrendo, sem o menor pudor, ao conforto das conveniências presentes nas aparências formalistas tão ocas quanto sebosas.
E o pior é que até hoje, os abençoados que foram presos, e bem como os caboclos que tiveram seus equipamentos apreendidos, continuam sem saber qual erro, crime, delito, transgressão, infração, violação, falha, falta, tropeço, engano, equívoco, deslize, pecado, heresia ou seja lá o que for que eles cometeram que deixou os Supremos de Tuvalu tão magoadinhos.
E o mais curioso é que em Tuvalu, diferente de outras terras, os Supremos, quando se sentem magoados, ou algo que o valha, podem, ao mesmo tempo, acusar, mandar prender, julgar, condenar, excomungar, abolir da existência, desintegrar, ou fazer qualquer outra coisa que assim desejarem, desde que, é claro, tal ação esteja devidamente prevista na sua forma particular de interpretar o texto constitucional de Tuvalu feita pelos togados supremos e, tal interpretação, mais que perfeita, é realizada de uma forma linda, a partir daquilo que se convencionou chamar de “tendência de abstrativização do controle concreto de constitucionalidade”.
Abre parêntese: essa conversa fiada de “tendência de abstrativização do controle concreto de constitucionalidade” é uma aberração jurídica que, graças a Deus, só existe em Tuvalu. Aqui, no Brasil, nem pensar. Os nossos Supremos são muito, mas muito iluminados para recorrerem a esse tipo de subterfúgio capirótico. Fecha parêntese.
Desse modo, em Tuvalu, a trucada é livre e o blefe é de validade incontestável, desde que quem recorra a eles esteja devidamente togado, pouco importando se o indivíduo está exibindo uma expressão gélida ou não no momento de sua jogada.
Quanto aos demais pacatos cidadãos de Tuvalu, o que resta é apenas o lamento porque, nessas distantes terras, de modo similar ao caso que fora apresentado por nós linhas atrás, se um cidadão comum dizer “não quero” é crime; agora, se um “semideus togado” disser “não quero”, porque o abençoado pode interpretar a Lei maior de Tuvalu à luz de minhas luzes”, o seu “não querer” passa a ser algo tão incontestável quanto sagrado.
Enfim, por essas e outras que as liberdades fundamentais de Tuvalu correm perigo.
Escrevinhado por Dartagnan da Silva Zanela
PARA LER OUTROS ARTIGOS – CLIQUE AQUI