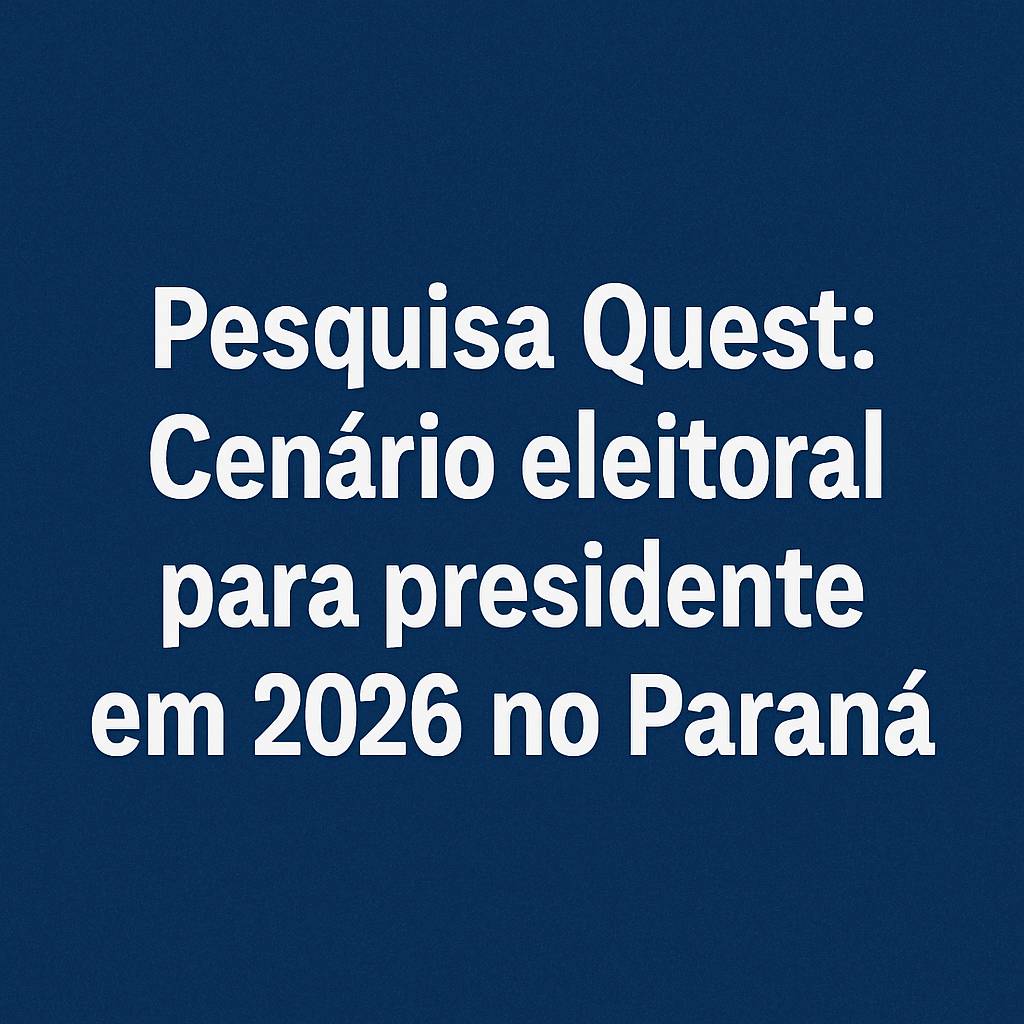Por Marcio Roberto*
1.INTRODUÇÃO E UM BREVE ESBOÇO HISTÓRICO.
Para se introduzir a temática fiscal, é dificílimo deixar de lado a estrutura fiscal do Brasil e as políticas macroeconômicas, em outrora, pautadas. Historicamente, o Brasil desconhece a noção de restrição orçamentária. Em outras palavras, ignora-se a lei número um da ciência econômica: os recursos são limitados e que se fazem escolhas que maximizem a utilidade dentro desse limite. A captura do Banco Central por Francis Drakes dos trópicos, cinco anos depois de sua criação, é uma inerência que, acima de tudo, demonstra a incapacidade de trabalhar dentro dos limites orçamentários.
Com o tempo, o Brasil criou inúmeros artifícios que facilitavam as escolhas políticas, pode-se tudo, déficit em demasia e, banco central, que
aumente a base monetária. Na depressão dos anos 30, o Brasil tomou algumas medidas que gerou absurda distorçam na economia. Numa delas, a retórica é fantástica, mas não tem fundamentação econômica alguma. Pelo inverso. Supor que um congelamento na taxa
de juro pode melhorar as relações econômicas é um disparate absoluto. Em resposta à Depressão, brasileiros com boas intenções colocaram em vigor uma lei que, em suma, limitava a taxa de juros real em 12%. Imaginava-se que isso poderia elevar o investimento no país, de fato, este esteve bastante elevado para padrão nacional.
O custo dessas imposições foi avassalador, pois esse juro era muito abaixo do equilíbrio, de tal modo que, poucos eram os bancos que poderiam fazer essas intermediações financeiras. O Banco do Brasil era um deles, que realizava tal operação, evidentemente, deficitária. Como o Banco do Brasil era, e é parcialmente, um banco estatal, cabia ao tesouro capitalizá-lo, no período Vargas. Mal ou bem, teve-se um
fortalecimento fiscal. O governo Vargas, com todos os “poréns”, tinha o fiscal sólido.
A referida interferência no juro promove uma desintermediação financeira e despoupança nacional, pois as IF’s irão remunerar menos do que a taxa de juros do empréstimo, o que, por conseguinte, fará com que os agentes tenham um menor interesse por poupar, trazendo e elevado o juro de equilíbrio, mas como ele é parcialmente determinado, tem-se um aumento na quantidade de empresas que ficaram
sem dinheiro para fazer mais investimentos, mesmo que elas estejam dispostas a tomar empréstimo com um juro real maior. E o pior, se o PMgK (adicional de produção com o aumento de máquinas que produzam bens de consumo, também chamado de investimento) for menor do que a taxa de juros, ter-se-á uma queda no crescimento potencial do país.
Porém, depois de um tempo, o país começa a colocar suas ideias ilusionistas em ação. Se o Banco do Brasil ter déficit, a SUMOC, embrião do futuro Banco Central, que resolva. Isso era um eufemismo para das boas vindas à boa, conhecida e velha inflação. A inflação é um fenômeno monetário, como diz Friedman, talvez nem sempre, mas certamente ela foi aqui no Brasil. Evidente que à medida que o país foi gerando receitas via senhoriagem, os agentes começaram a adaptar suas expectativas e gerou um efeito inercial. Em outras palavras, se o país teve uma grande inflação oriunda de expansão monetária, isso vai gerar uma futura inflação, pois os agentes supõe que ela será igual
igual ou maior do que fora t-1 (passado recente), ou seja, a inflação pode ter componentes de expectativas, isso sem nenhuma dúvida, mas primeiro, o que se tem é um desequilíbrio fiscal que leva o governo a aumentar a oferta de moeda.
Posteriormente, os agentes indexam contratos às expectativas de inflação, o que torna a tarefa mais árdua. Depois da criação retardada do nosso BACEN, ingênuo é quem pensa que o problema acabou. Nos primeiros anos de Banco Central, foi conservada sua independência,
inclusive, fora Castelo Branco, um dos rivais da inflação, com reformas estruturais pesadas, criação de um BC, reformulação nas instituições econômicas e reforma tributária. Nos primeiro anos, do ponto de vista econômico, houve um grande avanço. Parecia que o país tinha encontrado seus rumos posteriores às disparatadas ideias de João Goulart, reforma de base e tudo mais, que certamente levariam o país para um colapso total e absoluto.
Jango foi uma personificação de como ir contra as leis econômicas. Nenhum país que propõe reformas contra a propriedade privada chega ao desenvolvimento, pelo contrário, isso gera colapso e queda na produtividade — exemplos em demasia. Tudo isso não quer dizer que a concentração de terra não seja um problema, claro que é, mas tal processo é delicado, pois essas ideias só podem ser pautadas com instituições fortes. Países que assim o fizeram, tiveram uma benesse cronológica. Naquele período, os fluxos de capitais eram absolutamente rígidos, de tal maneira, que eles não estavam à mercê de flutuações em seu lastro, lê-se ouro, até porque uma fuga de capital gerava, incrivelmente, deflação, pois se diminuía a quantidade do lastro. Se a quantidade de ouro sofresse uma queda, por extensão, a quantidade de moeda deveria reduzir-se.
Depois de 1933 a emissão de moeda é realizada contra títulos públicos e não é mais lastreada no ouro. Depois que Castelo Branco deixa o cargo de presidente, tem-se uma pitada de populismo e ideias desenvolvimentistas que, invariavelmente, levaram-nos à inflação, resultado de desequilíbrio fiscal e de choques de oferta no mercado de commodities internacional. Se antes do Banco Central cabia à Sumoc a tarefa de resolver o déficit do governo. Depois de 69 (embora a criação do BC tenha sido em 64, foi em 69 que suas ferramentas são usadas em prol do desenvolvimentismo) coube ao BACEN fazer operações de redesconto, auxiliando o BB e o BNDE, que faziam empréstimos tortos,
para ruralistas e industrialistas ineficientes. Novamente, inflação. As histórias que ilustram a caricatura de governos irresponsáveis são dadas em demasia. Porém, agora ter-se-á uma pauta definitiva do tema TETO DE GASTOS E SUA IMPORTÂNCIA.
PEC DO TETO: IMPLICAÇÕES SOBRE SAÚDE E EDUCAÇÃO
Uma das maiores críticas da população — em relação à referida emenda à constituição — é que a PEC do teto congela gastos com saúde e educação. Isso é um argumento rasteiro. A emenda constitucional não estabelece isso. Ela apenas introduz o conceito do trade off, de escolha, que é inerente à elaboração de um orçamento. Por mais que ela, a emenda, imponha um limite real aos gastos primários, não estabelece o gasto que cada setor poderá efetuar em um ano. Ou seja, se o governo federal quiser aumentar os gastos com educação ele pode.
Para se aumentar os gastos numa área, basta ao poder público reduzir em outra área. Respeitando a ideia básica de restrição orçamentária. Evidentemente que, dado a tradição legalista da nossa república, isso implicaria em uma reversão à obrigatoriedade na execução orçamentária, isto é, o executivo junto com o poder legislativo deveria, por extensão, avaliar a rigidez do orçamento brasileiro, quase todo ele (95%) fixado e obrigatório. A saída, talvez esta seja o objetivo fim da emenda do teto, é zerar as obrigações orçamentárias, uma vez que nossa democracia se solidificou muito e o congresso pode, sim, absorver os anseios e demandas da população que os elegeram.
Voltando à implicação do teto nas áreas de saúde e educação, vale ressaltar que o teto é válido apenas à União, o que não limita os demais entes de elevar seus gastos nessas áreas. Um exemplo desta afirmação é o FUNDEB que não foi nenhum pouco atingido pela emenda — pelo inverso. O Fundo ganhou uma grande elevação na margem desvinculada aos municípios — que, convenhamos, não irá virar em melhoria na educação básica. Além de tudo isso, como o país tem fortes tendências de queda na natalidade, se terá uma queda na quantidade de alunos no futuro.
Mesmo que os valores reais empenhados em educação fiquem estáticos em valores reais, o gasto da União com educação, contra
a quantidade de jovens, irá se elevar. Quanto à saúde, a demanda por ela tende a aumentar em função do envelhecimento da
população. A solução para isso é simples e, ao mesmo tempo, há uma dificuldade de colocá-la em prática. Caberia à sociedade, via congresso, o papel de, ano após ano, mudar e moldar o orçamento de acordo com o que se percebe mais adequado investir no
referido momento. Hoje, por mais que se troque de governo, não se poderá mudar a estrutura de gastos da União, dado a já discutida rigidez do orçamento.
CURVA DE JUROS E ROLAGEM DA DÍVIDA DEPOIS DO TETO
Além de explicitar o conflito distributivo, a emenda do teto moldou toda a expectativa quanto à taxa de juros. Antes do teto de gasto ser imposto legitimamente, a curva de juros do Brasil estava empinada, ou seja, havia grande incerteza sobre o futuro fiscal e monetário do país. Afinal de contas, quem seria o aluado de investir em um país com risco de insolvência. Muitos economistas dizem que não há risco de crédito por termos uma dívida interna, isso é sabido, mas e o risco de mercado? Se alguém comprasse um título público brasileiro em T+0, no momento atual, com a curva de juros aberta, no tempo este título tende, fortemente, a perder seu preço na marcação a mercado. Pois havia, e ainda há, fortes indícios de que os gastos públicos continuariam subindo e que o governo não sanaria isso com ajuste fiscal.
Então a curva de juros torna-se aberta, pois os agentes entendem que a taxa de juros do futuro será maior do que a atual, já que a oferta de títulos será maior no futuro e seu preço de mercado será menor, isso sendo, a taxa de juros sobre esses títulos será maior, dado que
a depreciação do preço unitário ocorrerá. O tesouro deve, com isso, compensar o mercado com elevação do prêmio de risco. Claro que alguns títulos tendem a se valorizarem pelas suas características: As LFTs e NTN-B, que são títulos que não sofrem tanto com turbulências na macroeconomia. Com o teto de gastos, o mercado compreendeu que terá um ajuste fiscal e que a oferta de títulos públicos será menor no futuro, seu preço será maior e a taxa de juros menor — uma vez que ela é uma função inversa de sua oferta. Com isso, os agentes antecipam suas expectativas, dado que a taxa de juros do futuro tende a ser menor.
Logo, compram-se títulos hoje com uma taxa de juros maior do que a do estimado futuro. Isso feito, o título se aprecia quando a taxa cai no tempo. Ou seja, os títulos de T+0 (atuais) serão mais valiosos do que os de t+20 (futuro). Também, o teto reorganizou, até a crise de 2020, o mercado de leilões e o prazo da dívida pública. Isso porque antes dele ser colocado como baliza, o Tesouro Nacional não conseguia leiloá-los nos prazos estabelecidos. Usavam-se recursos da conta única, o que aumentava a liquidez do sistema. Isso ativaria o Banco Central a esterilizar essa liquidez, já que ela reduz a taxa de juros over — o banco central, deixando o tesouro usar a conta única e não captar a liquidez no mercado aberto acarreta em fuga da taxa de juros de mercado, isto é, ele não conseguirá atingir a selic meta. Para isso, o Bacen deve vender títulos no mercado aberto (via operações compromissadas) para reduzir a liquidez e convergir a over para a meta.
No fim da história, há uma espécie de securitização da dívida. Quando o Tesouro não consegue rolar a dívida, ele capta recursos da conta única. Por extensão, aumenta-se a liquidez (que pode virar inflação se expansão tornar-se moeda), isso reduz a taxa de juros. O Banco Central vende títulos no mercado aberto para que a liquidez de outrora não se torne inflação e não distorça a taxa de juros over. Isso é o maior exemplo da importância das criticadas operações compromissadas à economia. Se não fossem as operações compromissadas, o governo federal não conseguiria pagar o auxílio emergencial, por exemplo. As operações compromissadas ajudam o governo a conseguir e, com o mínimo de saúde financeira, a captar recursos sem prejudicar o poder de compra da população pouco blindada da elevação dos preços, inerências da expansão de liquidez não esterilizadas.
Com o teto, a quantidade de títulos que o Banco Central teve de esterilizar tornou-se menor, já que os agentes começaram a ter confiança e adquirir títulos com prazos de vencimentos maiores — por mais que o tesouro sempre os garanta, o risco de mercado segue sendo um perigo aos credores — isso tudo ajuda a garantir que a taxa de juros convirja mais facilmente à Selic meta.
Isso tudo pode parecer distante, a ideia de rolar a dívida pública interessa a todos — pelo menos deveria. Se o governo não conseguir rolar a dívida (captar novos empréstimos para pagar os vencidos) o empenho com o bolsa família seria um risco certo de ser consolidado, pois ele é um gasto discricionário, passivo de corte, é um dos 5% do orçamento que não é obrigatório.
GASTOS OBRIGATÓRIOS E A REGRA DE OURO
Como já falado, há uma grande inflexibilidade no orçamento brasileiro. Têm-se muitos empecilhos tecnocráticos que obrigam recursos mínimos à cada setor. Muitas dessas imposições foram inseridas há 3 décadas. A persistência delas ignora a heterogeneidade que há entre os municípios. Por exemplo, impõe-se que todos os municípios gastem, no mínimo, 25% da receita corrente líquida em educação. O objetivo é nobre. Porém, gastar mais não é sinônimo de melhoria e fomento à qualidade na educação. Vê- se os últimos anos como exemplo disso. Quanto àqueles municípios que tem uma população pífia de estudantes, não seria ineficiente alocar 1/4 das receitas numa área não tão
precária e carente de recursos.
Muitos municípios não tem o mínimo de saneamento – algo que é prioritário até para não dificultar a capacidade das crianças de desenvolverem seu sistema cognitivo -, mas muitas vezes gastam desnecessariamente em uma área por uma determinação constitucional. Sobre saneamento, dado que se uma criança pegar uma leptospirose terá um empecilho que dificultará toda construção cognitiva (tornou-se um problema de saúde e educação). Nesse caso hipotético, mas não raro, a criança terá uma grande dificuldade, tanto em desenvolver sua capacidade de raciocínio no futuro, bem como se concentrar numa tarefa trivial. Ou seja, é um completo equívoco do ponto de vista
alocativo o orçamento ser uma imposição.
Para a União também há esses empecilhos, que obrigam 95% do gasto primário (Gasto total — Despesas Financeiras) em despesas obrigatórias. Toda essa rigidez bate na Regra de Ouro.
A regra de ouro diz-nos que a União, através do Tesouro Nacional, não pode captar recursos via dívida pública para abater gastos corrente. Ou seja, se falta à União R$ 40 bi para pagar Bolsa Família, o governo federal não pode captar esse recurso com títulos de dívida pública, pois como dívida pública é paga no futuro, entende-se, nobremente, que isso irá prejudicar as futuras gerações, que deverão sanar isso com uma elevação de carga tributária.
Com esse cenário, o executivo deve pedir autorização ao congresso para emitir títulos. Fora isso é crime de responsabilidade fiscal. Isso acontece frequentemente desde a grave recessão de 2015–16. Isso faz com que o TCU, quase como regra, aprove as contas com ressalvas, dado que a União não conseguiu preservar a regra de ouro.
FURAR O TETO
Muito discutida recentemente, a ideia de furar o teto é sinônimo de darmos adeus à taxa de juro de 2% a.a. Nenhum agente racional iria comprar algo que ele sabe que vai perder valor no futuro, ou seja, se eu sei a oferta de títulos no futuro será maior, por que comprá-los hoje? Isso geraria um encurtamento no prazo da dívida e uma forte elevação na taxa de juros. Por extensão, o investimento tende a cair, pois a taxa de juros subindo aumenta o custo do capital. Indo à realidade, isso feito com o Teto iria ativar o gatilhos.
Corte de jornada de funcionários;
Congelamento Concursos;
Vedado reajuste;
A Não Criação de Novas despesas.
Enfim, há outros gatilhos que a emenda constitucional nº95 estabelece caso o governo federal fure o teto constitucional. O país não precisa trilhar esse caminho coercitivo. Basta arrumar o orçamento dentro da restrição orçamentária. Todos têm sua restrição.
CONCLUSÃO: A SOCIEDADE PRIVADA COMO ACIONISTA DAS CRISES
O Brasil é o conhecido país da terceirização. Ninguém se responsabiliza e compreende que, parafraseando Marcos Lisboa: “a culpa da crise é nossa exclusiva”. Quando o Congresso se organiza para fazer reformas, há uma grande aversão às mudanças essenciais ao país. Todos querem de algum modo defender seu grupo, sua fatia do bolo de um Estado debilitado. Com isso tudo, o que se tem, é um dilema dos prisioneiros, ou seja, todos pensando em si gerará uma piora para todos.
Os culpados não estão em Brasília ou nas câmaras locais. A culpa disso tudo está nos grupos organizados, que são acionistas das crises e sócios do declínio que o país enfrenta nos últimos anos.
*Estudante de Economia – Unicentro. Tesoureiro da Associação dos Estudantes Universitários.